A primeira muralha contra a barbárie e o fanatismo
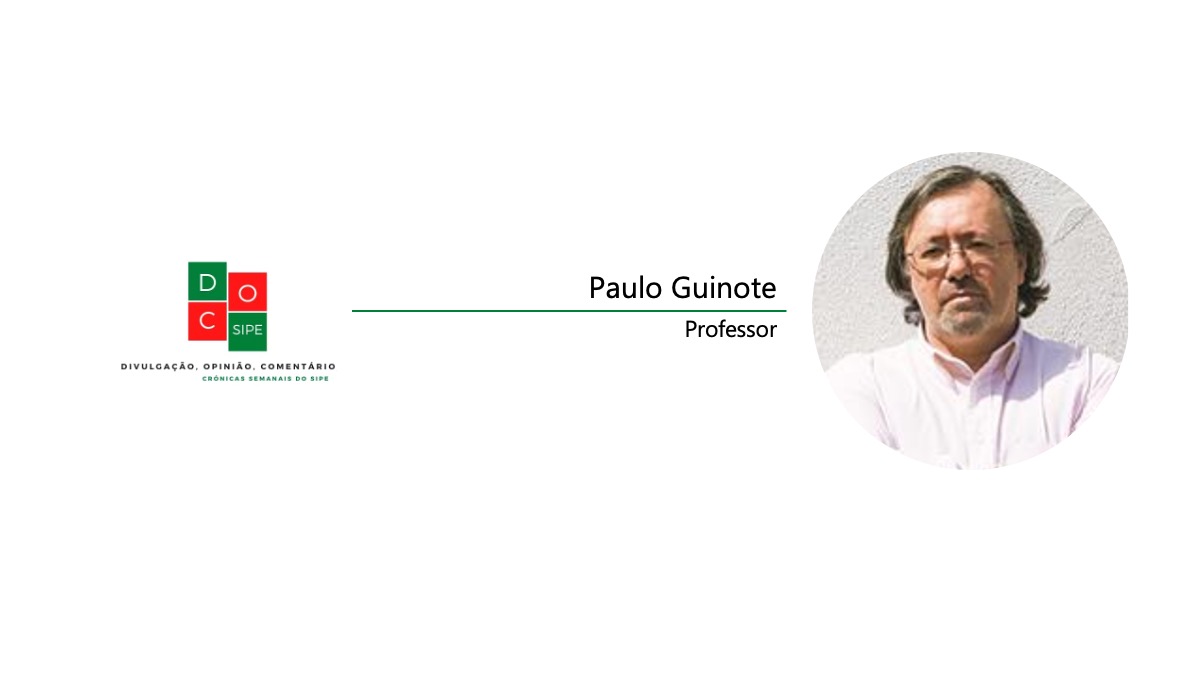
A primeira muralha contra a barbárie e o fanatismo
Por: Paulo Guinote
Os gregos antigos e depois os romanos consideravam como “bárbaros” todos aqueles que não conheciam a sua língua e, por isso, pareciam balbuciar sons incompreensíveis. Por extensão, o termo aplicava-se a todos os estrangeiros que revelavam desconhecimento da cultura que agora designamos como “clássica”. Cultura essa que tanto gregos como romanos se preocupavam em transmitir de geração em geração, uns de forma mais elitista, outros de uma forma que agora poderemos qualificar como mais “democratizada” ou “massificada”.
Não é por acaso que a etimologia grega da palavra “escola” (“scholé” ou σχολή, que nos chegou através do latim “schola”) a associa a um lugar ou tempo de lazer e recreio, pois o estudo, a reflexão, o convívio no sentido da transmissão ou troca de conhecimentos e ideias, estavam associados a pessoas de um estatuto social e económico privilegiado. A par disso, os gregos do período clássico não se preocupavam especialmente no ensino da sua cultura aos povos exteriores à Hélade, mesmo que sob o seu domínio, ao contrário dos romanos que faziam tudo por espalhar a sua, com destaque para a língua, que faziam ensinar a todos os habitantes dos territórios conquistados pelas legiões romanas.
Por isso, a nossa actual “escola de massas” é mais herdeira da tradição romana do que da grega, mesmo se existem óbvias transformações no seu modo de funcionamento, currículo, acesso, uso do tempo e espaço, ao longo de séculos e mesmo milénios. Mas a lógica da escola como instituição responsável pela transmissão dos conhecimentos tido como úteis para a formação das gerações seguintes, com maior ou menor elitismo no referido acesso, é algo que tem permanecido.
Os mestres, os professores, aqueles que eram aceites como sábios pelos restantes elementos da sociedade e das comunidades, eram os que garantiam a transmissão das tradições e dos conhecimentos que funcionavam como a primeira muralha contra a ignorância e, por essa via, contra o fanatismo nascido de visões redutoras e limitadas da realidade envolvente, da natural à social.
O fanatismo tende a instalar-se com maior facilidade em ambientes nos quais predomina um conhecimento parcial do mundo e da sua pluralidade, cultural, social, política ou religiosa. Onde é veiculada uma versão truncada das conquistas intelectuais da Humanidade ou onde elas são relativizadas e desconsideradas, em favor de teologias ou ideologias exclusivistas. Onde a ignorância é encarada quase como uma bênção ou mesmo uma força (Orwell, 1984), como se o conhecimento fosse uma ameaça. Porque é realmente uma ameaça contra todos os que receiam uma sociedade informada.
Em Roma, aprendizagem de uma língua comum, assim como a partilha de um capital cultural aceite como herança dos antepassados, não sendo raro o recurso ao sincretismo, mesmo o religioso, eram elementos fundamentais do processo de “romanização” que se encarava como a melhor forma de promover uma convivência pacífica de povos de origens diferentes. Sim, era um projecto imperialista e que promovia a aculturação dos povos que foram sendo progressivamente dominados, mas uma das finalidades era atenuar as fontes conflito e permitir uma comunicação com um conjunto de códigos partilhados pelo maior número possível de habitantes do Império. Neste sentido, a Educação e os mestres constituíam-se, fora da esfera militar, como a tal primeira muralha contra a “barbárie ou o “barbarismo”.
Atribui-se a Cícero a afirmação de que “a ignorância é a maior enfermidade do género humano” e a Quintiliano a recomendação de que amassem os seus professores tanto quanto os seus estudos. É uma pena que andem tão esquecidos.
Paulo Guinote